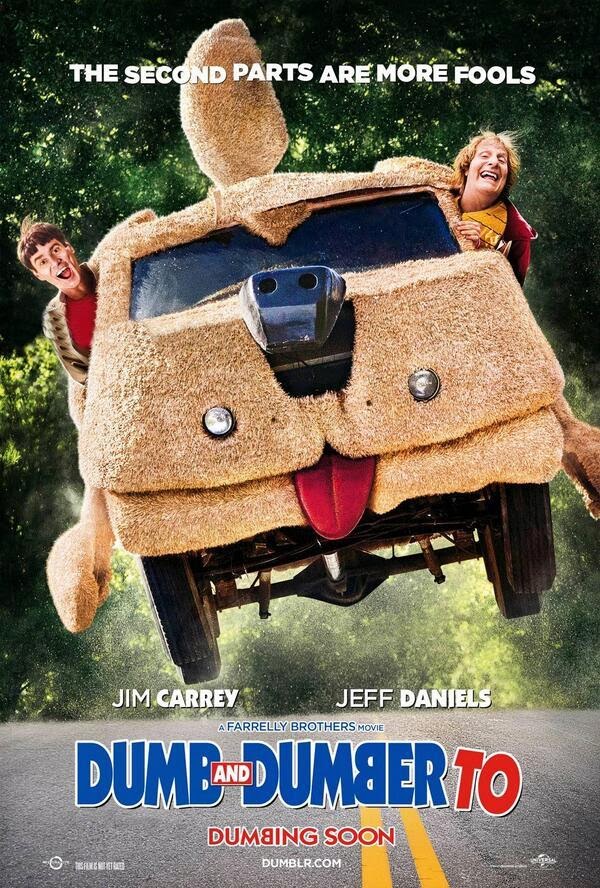Análise:
Jogos Vorazes – A Esperança
Parte 1
(The Hunger Games – Mockinjay Part 1 /
2014 / EUA) dir. Francis Lawrence
por
Lucas Wagner
Um filme que delineia
com precisão o seu tom narrativo logo nos primeiros cinco minutos de projeção,
merece respeito. É como o resumo de um artigo científico, que prepara para o
que vem a seguir. Em Jogos Vorazes – A Esperança
Parte 1, somos lançados (ou relançados) naquele universo com um plano
fechado no rosto de Katniss, que já acostumamos a ver como alguém forte e
pragmática, mas aqui entregue ao desespero e choro. Depois de um curto passeio claustrofóbico
pela sua nova rotina, ocorre um fade out,
e as letras revelando o título surgem devagar, quase cansadas, sob uma trilha
triste. E pronto: sabemos perfeitamente que tipo de filme veremos nas duas
horas seguintes.
Jogos
Vorazes nunca foi um blockbuster
comum. Sempre ambicionou mais, mesmo que tropeçasse diversas vezes,
especialmente no primeiro filme. Aqui, no entanto, o cineasta Francis Lawrence
prova sua pouco reconhecida maturidade enquanto profissional ao evitar entregar
uma narrativa explosiva que tantos poderiam desejar, e cria um trabalho que
remete ao que David Yates fez nos dois últimos e impecáveis capítulos da franquia
Harry Potter, em seu tom triste e
contemplativo. E mais: além de evitar explosões e correrias, Lawrence (e sua
equipe, é claro) faz da divisão desse último livro em dois não um meio de
ganhar dinheiro e encher lingüiça (cof –
Crepúsculo – cof), e o ritmo pausado da obra vai muito além de preencher o
tempo, mas é o próprio modo como o filme respira, como sua introdução busca
explicitar.
O cineasta mergulha seu
filme nesse tom contemplativo, apocalíptico que se transforma num profundo
estudo daquele universo, dando um rumo novo a uma franquia que já parecia
demasiado confortável em seus moldes. Os planos são longos, a câmera geralmente
fica na mão, gerando uma espécie de desconforto coadunado pelos planos fechados
nos rostos sérios e cansados dos seus tristes personagens, que são trespassados
pela melancolicamente eficaz trilha sonora de James Newton Howard. O que não impede
que o diretor demonstre competência nos momentos de tensão e, em especial no terceiro
ato, revela segurança na condução de uma angustiante sequência que coaduna a ação em dois
espaços físicos diferentes porém interdependentes.
Mas Lawrence demonstra
a mesma sensibilidade que tinha tornado seu Eu
Sou a Lenda uma obra tão marcante, e novamente remete a Yates e Relíquias da Morte (parte 1, em
especial) ao demonstrar parcos momentos de alívio para seus personagens, quando
conseguem encontrar algum pedacinho de realidade (lúdica, que seja) que não enxote
o sorriso, e assim A Esperança Parte 1 ganha
trechos de bonita e suave melancolia quando Katniss e Gale, num raro minuto de descanso,
observam um lago, dividindo carinho, ou quando um grupo de pessoas brinca com
um gato e uma lanterna. Além disso, o roteiro merece pontos pelo respeito aos
personagens por permitir que esses compartilhem seus sentimentos, suas dores e
seus cuidadosos fiapos de esperança, e não estejam a todo momento turbinados
para objetivos racionais e abstratos.
E ver Katniss, outrora tão
resiliente, em uma realidade que parece sugar suas forças, talvez seja o
elemento mais comovente de A Esperança Parte
1. Não que agora a moça esteja passiva, mas é impossível não perceber seu
cansaço, sua fadiga preenchidos por um profundo sentimento de desesperança,
medo e indignação, sendo esse último talvez o único aspecto que ainda a mova em
suas bases revolucionárias. Se tinha demonstrado louvável pragmatismo em suas
atitudes no capítulo anterior, aqui essa postura parece simplesmente inviável,
e sua dor pela percepção/medo de estar perdendo Peeta (em todos os sentidos) é
palpável, o que não impossibilita que sinta o mesmo pelo personagem de Gale,
chegando a um momento de puro desespero que solta uma frase repleta de dor, no
terceiro ato (por motivos de spoiler,
não a revelo).
O fato de estar sendo
pressionada a agir de uma forma que soa manipulativa, forçada, além de passiva,
sendo novamente tomada por joguete na mão de terceiros, é uma variável
importante para compreender seu comportamento; só que, se anteriormente suas reações
ao que lhe impunham vinham tomadas de rebeldia calculada, aqui ela parece
apenas uma sombra de si mesma, algo que se torna compreensível se atentarmos
para o detalhe de que ela está sendo manipulada, de certa forma, para seus
próprios objetivos. Ainda assim, manipulada, presa num jogo midiático fantasmático
e confuso. Porém, mesmo diante desses fatos, Katniss demonstra sua força e
imponência em diversos momentos, em especial quando se vê frente a frente com
berrantes atrocidades cometidas pela Capital ou mesmo por seus colegas.
Mas é justamente no seu
aspecto de jogo midiático que A Esperança
Parte 1 ganha mais pontos. Se nos dois primeiros capítulos, a franquia
tinha demonstrado uma sábia maturidade ao lidar com temas complexos envolvendo
uma cruel sociedade hedocapitalista controlada/manipulada pela mídia, aqui a
obra compreende um tema um tanto diferente (mas que não exclui o de antes, é
claro) e foca-se na guerra política entre os Distritos e a Capital, cuja arena verdadeira
é a mídia, e assim, tanto os “mocinhos” como os “bandidos” jogam a partir de
imagens, para comprar “seguidores”. E o que é a mais importante variável para
uma análise comportamental do estado atual de Katniss, ou seja, de sua despersonalização,
é compreender que a protagonista importa para seus “líderes” como um fator
imagético, como um símbolo para a revolução, e não como definitivamente uma
líder.
Assim, apesar de toda
sua força, vemos a protagonista emocionalmente desgastada por uma forçada alienação.
E Jennifer Lawrence entrega, em uma carreira já tão fascinante, aquela que é
uma de suas melhores performances, numa composição extremamente complexa envolvendo
todas essas variáveis que comentei e como a modelam, assim como leva em consideração
o histórico de força da personagem para construí-la de modo a variar com
maturidade entre os momentos mais passivos, confusos e potentes da moça.
Apesar de ainda não ser
uma obra perfeita (por motivos um tanto ínfimos, devo dizer), A Esperança Parte 1 é o mais perto que a
franquia chegou da excelência, explorando toda a ambição e complexidade
possíveis do que, além de uma obra de entretenimento, é um baço espelho
metafórico da realidade.
P.S: Como dói ver
Philip Seymour Hoffman...
- Meus textos dos
outros filmes da franquia: